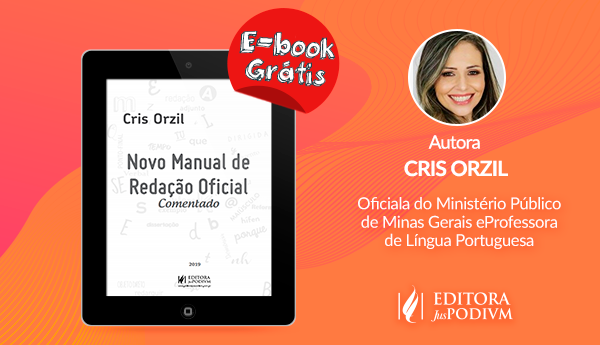INTRODUÇÃO
“Nunca confie em um burocrata”. A advertência, um tanto categórica, já compôs o título de um clássico estudo sobre a doutrina do estoppel contra o Poder Público, um instituto do sistema Common Law para a tutela da confiança do cidadão em relação às condutas e promessas contraditórias do Estado. Na prática, a boa-fé é fundamental e necessária para todas as relações da Administração Pública, quer internas, quer para com os cidadãos, desenvolvidas normalmente por intermédio de um processo.
O presente artigo se ocupa do que aqui se trata por “decisões-surpresa” da Administração Pública, tomadas sem que fosse realizado o processo cabível ou, mesmo havendo processo, sem que nele tenha sido garantido o exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório para o interessado. Procura-se demonstrar que a tutela processual da boa-fé desempenha uma importante dimensão da legalidade e da legitimidade das decisões administrativas.
Para tanto, propõe-se a seguinte estrutura: em um primeiro momento, apresenta-se uma contextualização teórica e legal da boa-fé em matéria de direito administrativo. Em seguida, serão apresentadas considerações sobre a boa-fé e o processo administrativo, à luz do tratamento da matéria no Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105, de 16/3/2015). Por fim, uma análise conclusiva será encaminhada a partir do estudo de situações concretas.
1. A BOA-FÉ NO DIREITO ADMINISTRATIVO
O princípio da boa-fé deita suas origens no direito romano, com a bonae fidei, sendo que a atenção ao longo dos tempos foi-lhe prestada especialmente no âmbito privado das relações jurídicas, e, em razão disso, sua exploração científica tem sido realizada principalmente pelos estudiosos do direito civil. Uma possível resistência à absorção do instituto pelos estudiosos do direito administrativo pode ser atribuída à concepção, já ultrapassada, segundo a qual o Estado ocuparia uma posição autoritária e de superioridade em relação aos cidadãos. Essa é uma visão por certo incompatível com o Estado democrático e de direito tal qual concebido nos dias de hoje.
No direito administrativo brasileiro, o princípio da boa-fé encontra ampla acolhida legislativa e jurisprudencial, além de estar albergado constitucionalmente no artigo 37, pela previsão do princípio da moralidade da Administração Pública (caput) e pela tutela à probidade administrativa (§4º).
Para fins deste artigo, fazem-se necessárias algumas breves considerações sobre a boa-fé, em sua acepção jurídica. A figura em questão pode ser compreendida, de maneira geral, como a confiança, a honestidade e a fidelidade aplicadas a todas as relações jurídicas, inclusive de direito público, dirigindo-se para a concretização dos direitos fundamentais, bem como dos demais princípios que regem o Estado. Ademais, consoante sustentou Jesús González Pérez (1989, p. 26), a boa-fé é a base de todas as relações que envolvam uma vinculação entre sujeitos. Até mesmo porque a base moral da confiança deve ser entendida como o mínimo para certa unidade social e de convivência dos indivíduos entre si e entre o Estado. Nesse sentido, o princípio inspira o direito em geral, em sua manifestação tanto substancial quanto processual.
É possível distinguir duas dimensões da boa-fé: objetiva e subjetiva, embora por vezes os limites sejam sutis. A boa-fé subjetiva é usualmente associada ao estado psicológico da pessoa que acredita na legalidade e legitimidade de determinado estado de coisas, bem como de sua própria conduta, ignorando quaisquer vícios ou irregularidades a respeito.
A boa-fé objetiva, de seu turno, identifica-se, em regra, com sua representação normativa – trata-se da consideração da boa-fé enquanto postulado do direito positivo, por meio de regras ou de princípios. E desse sentido propriamente normativo proviriam deveres de conduta para sujeitos de determinada relação jurídica, deveres esses que tomariam forma precisa diante do caso concreto (pois, sendo um conceito jurídico indeterminado, será na prática que a boa-fé adquirirá seus contornos mais nítidos), mas sempre à luz de um comportamento honesto e leal. Como exemplo de condutas de acordo com a boa-fé objetiva, tem-se a proibição ao abuso de direito, o nemo potest venire contra factum proprium, a inalegabilidade de vícios puramente formais e sanáveis para fins de nulidades, o dever de colaboração entre as partes, entre outros.
No Estado Democrático de Direito, a boa-fé inspira a legalidade (em sentido amplo) e a sua dimensão objetiva, dessa forma, apresenta-se como parâmetro fundamental para a atuação dos agentes públicos e do funcionamento da máquina estatal.
2. AS EXPRESSÕES DA BOA-FÉ NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em relação ao processo administrativo, a sequência funcional de atos que traduzem a conduta da Administração, a observância dos deveres impostos pela boa-fé assume forma própria. Considera-se, nesse âmbito, a dimensão objetiva da boa-fé a conformar a atuação processual administrativa, que, segundo se verá, muito reforça a efetivação do devido processo legal.
Se assumirmos a premissa de Merkl (2004, p. 272) segundo a qual toda a atividade administrativa é processo, e todo ato administrativo nada mais é do que o resultado de um processo administrativo, é possível inclusive afirmar que a própria processualidade da atuação administrativa constitua, por si, a máxima efetivação do princípio da boa-fé no direito administrativo, tendo em vista a existência de uma predefinição normativa de comportamentos esperados da Administração Pública e dos interessados que com ela interagem, ou, por outras palavras, a determinação positiva de um modo correto de agir para todos os sujeitos da relação processual.
O processo administrativo, ganhando contornos mais específicos em termos de técnica dogmática em comparação com o que se passava ao tempo em que Merkl produziu seus estudos, ainda assim pode ser concebido como um dos vetores de evolução do direito administrativo (no contexto dos Estados de direito ocidentais), ao longo do século XX, ganhando novo impulso a partir da década de 1990, como bem nota Odete Medauar (2003, pp. 220/227).
A esse respeito, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (2012, p. 23-28) destacam a delonga na promulgação de uma lei federal geral de processo administrativo no Brasil. Para os autores, até 1999 (quando então entrou em vigor a Lei Federal de Processo Administrativo), a inexistência de uma disciplina normativa do processo administrativo prestava-se ao reforço da autocracia burocrática que até então predominava. Com efeito, o processo administrativo permite aos interessados participar da geração das ações administrativas, o que, para os autores, permite exprimir o “binômio incindível” entre processo e democracia e, atualmente, que a “Administração e processo administrativo são conceitos sinônimos”.
Em relação aos sujeitos do processo, a aplicação da boa-fé deve ser a mais ampla e abrangente possível. Segundo aponta Egon Bockmann Moreira (2007, p. 110), o princípio da boa-fé se aplica tanto à Administração, quanto aos administrados, e, enfim, a todos os envolvidos na relação jurídico processual, “Administração, particulares que dela participam ativamente e terceiros”.
No mesmo sentido, Carlos Ari Sundfeld (2006) lembra a importância do processo como o “diálogo necessário entre Estado e cidadãos”. Em texto que leva como título esse curioso (e verdadeiro) postulado, afirma-se que “a grande idéia do processo é fazer com que haja participação, com que os que têm interesses direta ou indiretamente atingidos, dialoguem, aberta e integralmente. Mas é fundamental que também a autoridade que decide seja obrigada não só a ouvir, mas a dialogar. Dar oportunidade para manifestação real e igualitária exige esforço, tempo e técnica. Mas isto seria absolutamente inócuo, se aquele que ouve pudesse decidir, em seguida, sem dialogar. Então, o que há de fundamental no processo é obrigar quem decide a dialogar com as partes. Não para saber se elas estão de acordo com a decisão. É um diálogo com os argumentos”.
Na Constituição Federal de 1988, o devido processo legal encontra guarida nos processos judiciais e administrativos, conforme disposto no artigo 5º, LIV e LV.
Assim sendo, pode-se conceber o processo administrativo como uma verdadeira garantia constitucional – verifique-se, a propósito, as ideias de Odete Medauar (2008, p. 77) – valendo lembrar, conforme entende Romeu Felipe Bacellar Filho (2012, p. 61), que, enquanto garantia constitucional, o devido processo possui a “dupla funcionalidade” de, subjetivamente, “atuar na tutela de direitos dos administrados” e, objetivamente, “prevenir e remediar violações do direito objetivo vigente”. Aliás, bem notam Irene Nohara e Thiago Marrara (2009, p. 71) que o processo ainda possibilita os “questionamentos das práticas burocráticas” e a “participação democrática na gestão administrativa”.
O devido processo legal também é tratado no Brasil no âmbito da legislação infraconstitucional: no plano federal, a já citada Lei Federal de Processo Administrativo, em seus artigos 2º, X, 3º, II e III, e 28 e, no caso do Estado de São Paulo, a Lei Estadual de Processo Administrativo, em seu artigo 22, caput e §1º, consagram o direito à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo.
A viabilização do exercício da ampla defesa e do contraditório, que tradicionalmente compõem a noção de devido processo legal, somente ocorrerá mediante a ciência, do interessado, da tramitação de processos, para que, assim, tenha vista dos autos, se manifeste, produza provas, e conheça as decisões a serem proferidas. O direito à ampla defesa e ao contraditório, no direito administrativo, deve ser plenamente realizado. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro sustenta que as faculdades processuais do interessado se sobressairão em face das “formalidades” do processo, propondo, por exemplo, que a interpretação de normas sobre cálculo de prazos processuais seja feita à luz do contraditório e da ampla defesa (2013, p. 116-117).
Em face da noção de boa-fé no processo administrativo, pode-se inferir que é esperado da Administração que o conduz franquear a ampla defesa e o contraditório aos interessados em seu resultado. Referida expectativa consubstancia-se na confiança geral de que toda conduta da Administração será realizada nos termos estritos da lei.
Expandindo a constatação, chega-se à conclusão de que a efetivação dos direitos processuais mais elementares, centrados no devido processo, dependerá diretamente da atuação processual da Administração. A doutrina estrangeira costumar exprimir essa ideia com a figura das “procedural legitimate expectations”.
À tutela das legítimas expectativas processuais corresponde o dever de as autoridades adotarem um procedimento que proporcione ao interessado o direito de ser ouvido. Em contraposição à ideia de “substancial legitimate expectations”, a proteção das expectativas processuais não diz respeito, ao menos diretamente, ao mérito da decisão administrativa, mas sim à modulação do exercício da atividade decisória da Administração, de tal forma que o resultado final do processo contemple as manifestações dos interessados. Disso também decorre, como afirmou Barak-Erez (2005, p. 595), “um equilíbrio adequado entre os poderes administrativos sem restrições e as reivindicações relativas à proteção substancial da confiança legítima”.
Desse modo, e em linhas gerais, um processo conduzido segundo as expectativas legítimas compreenderá a atuação da autoridade administrativa que o conduz nos regramentos precisos referentes ao processo que deve seguir. Naturalmente, os parâmetros para a atividade processual e todos seus delineamentos específicos estarão previstos na lei. E, ainda que o desenho legislativo do processo preveja termos indeterminados (tais como o fez a Lei Federal de Processo Administrativo, ao impor o dever de “urbanidade”, “lealdade” e “decoro”), a um só tempo, também se determinam os moldes dentro dos quais se exercerão as demandas dos interessados na tutela processual da boa-fé.
E ainda, um processo harmônico, com expectativas legítimas, não poderá conduzir a decisões discrepantes em relação a práticas reiteradas da Administração, ensejadoras de uma confiança dos indivíduos em sua manutenção.
Não é o caso de se aprofundar aqui a discussão sobre proteção à confiança – ou mesmo sobre a conexa noção de segurança jurídica, ambas evidentemente associadas ao princípio da boa-fé – valendo citar, a respeito trabalhos específicos sobre o tema no direito administrativo brasileiro, como os de Almiro do Couto e Silva (2005), Odete Medauar (2005), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2008), Patrícia Ferreira Baptista (2006) e Carlos Ari Sundfeld, Rodrigo Pagani de Souza e Guilherme Jardim Jurksaitis (2012).
Em termos de uma definição jurídica mais específica, recorra-se ao esclarecimento de Almiro do Couto e Silva (2005, pp. 3/4):
“A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade dos atos do Estado até mesmo quando estes se qualificam como atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Diferentemente do que acontece em outros países cujos ordenamentos jurídicos frequentemente têm servido de inspiração ao direito brasileiro, tal proteção está há muito incorporada à nossa tradição constitucional e dela expressamente cogita a Constituição de 1988, no art. 5º, inciso XXXVI.
“A outra, de natureza subjetiva, concerne à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação”.
A natureza subjetiva da proteção à confiança também é destacada por Bertrand Mathieu (1999, p. 60):
“O princípio de confiança legítima é um princípio essencialmente subjetivo posto que sua ofensa se aprecia em vista da confiança que tal ou qual indivíduo pôde depositar na estabilidade do quadro jurídico em que atua. Assim uma mesma evolução do direito pode ofender o princípio da confiança legítima em relação a uma categoria de indivíduos e não quanto a outra”.
Assim concebida em tese, a quebra da confiança pode-se dar tanto no plano dos atos administrativos de execução (ex.: descumprimento de compromissos, ainda que não revestidos de forma jurídica; alteração abrupta de regulamentos; desfazimento de decisões ou atos em geral), como no plano dos atos normativos, legislativos ou administrativos (ex.: retroatividade, ou mesmo, em certos casos, vigência imediata).
Em suma, o princípio da boa-fé, no processo administrativo, exprime-se em três principais sentidos:
- na própria existência do processo – ou seja, na adoção, pela Administração Pública, do instrumento processual como regra geral para seu modo de É certo que, sob essa afirmação, há que se entender o processo, em um sentido mais amplo (conforme o faz Merkl), como procedimento de ação e decisão conforme um rito legalmente estabelecido. Mas também pode-se entender processo no sentido específico de “devido processo legal”, caso em que sua aplicação não será exigível para qualquer atuação da Administração, senão nos casos indicados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição brasileira;
- na garantia dos direitos inerentes ao devido processo legal – ou seja, quando se tratar da hipótese constitucional do devido processo legal, devem ser garantidos em sua plenitude os direitos de contraditório e ampla defesa;
- na produção de decisões que atendam às das legítimas expectativas processuais – ou seja, o resultado do processo não pode implicar uma decisão que se mostre estranha ao quanto debatido em seu curso ou mesmo discrepantes de práticas anteriores da Administração que legitimamente inspirem a confiança dos indivíduos em sua reiteração ou, ao menos, em sua alteração mediante indicativos progressivos, de fato ou de direito, de que isso venha a
Enfim, uma decisão em processo administrativo que não atenda a esses três sentidos pelos quais se expressa a boa-fé processual pode ser considerada como ilegítima “decisão-surpresa” a que se refere o título deste estudo.
4. A BOA-FÉ NO PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
O Código de Processo Civil (CPC) trouxe grande ênfase para o princípio da boa-fé, de modo a refletir-se também sobre o processo administrativo.
A discussão da aplicação supletiva e subsidiária do CPC aos processos administrativos não é isenta de polêmicas. No entanto, em matéria das disposições do CPC sobre boa-fé, acredita-se não haver conflito com as regras próprias das leis sobre processo administrativo. Podem-se até conceber as regras do CPC como trazendo certo reforço em termos de política legislativa à prática da boa-fé nos processos administrativos.
Uma primeira menção do CPC à boa-fé encontra-se na previsão genérica de seu artigo 5º: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Trata-se de uma invocação genérica do princípio da boa-fé, que, portanto, deve ser acolhido tanto em sua dimensão subjetiva como em sua dimensão objetiva, acima já referidas.
E ainda deve levar à sua compreensão como aplicável às partes, ao julgador e a todos aqueles que a qualquer título atuam no processo: testemunhas, peritos, assistentes técnicos, amici curiae e mesmo servidores encarregados da prática de atos materiais de impulsão e de execução no âmbito do processo.
No caso do processo administrativo, explicite-se, a boa-fé imponível à Administração – a qual já o seria de qualquer modo, mesmo fora de uma relação processual – não difere por sua eventual situação de parte e/ou julgador. De rigor, a posição de maior ingerência ativa sobre o processo administrativo que tem a Administração, por contraste com o juiz jurisdicional, reforça politicamente a necessidade de atenção para sua observância quanto ao princípio da boa-fé.
A segunda menção expressa que faz o CPC à boa-fé surge no artigo 322, que cuida do “pedido”. O § 2º do CPC assim dispõe: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
Aplicando-se essa ideia ao processo administrativo, ainda que sem o rigor formal da noção de “pedido” para o processo jurisdicional civil, há que se entender que a postulação formulada por qualquer interessado perante a Administração deve ser interpretada de boa-fé, o que é exigido seja por parte de quem a formula, seja por parte da Administração que a julga.
Mais do que um apego à literalidade do pedido, que pudesse levar a compreensões incoerentes com o sentido do processo, há que se proceder a uma interpretação que harmonize o conjunto do litígio processualizado.
Assim, quando, por exemplo, a Lei Federal de Processo Administrativo determina, em seu artigo 47, que “o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente”, há de se compreender que a “indicação do pedido inicial” no relatório do órgão de instrução, mais do que reproduzir as palavras do pedido, deve interpretá-lo à luz do conjunto dos elementos que integram o processo, colhidos na fase instrutória, de modo a propiciar uma decisão que atenda à boa-fé, não configurando ilegítima “decisão-surpresa” por parte da Administração.
E a terceira referência explícita do CPC à boa-fé vem em matéria de “sentença”, no artigo 489, cujo § 3º estabelece: “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
Do mesmo modo que se acaba de indicar a necessidade de interpretação do pedido à luz da boa-fé, também a decisão do processo há de se interpretar de conformidade com a boa-fé.
De plano, interpretar a decisão com boa-fé significa compreendê-la de modo harmônico com os elementos do processo, notadamente o pedido (ou, de modo mais amplo, em se tratando de processo administrativo, o ato que tenha dado origem ao processo) e os demais elementos reunidos ao longo da instrução probatória.
No entanto, essa norma há de se aplicar também como um comando a que a decisão seja proferida de boa-fé.
Explique-se melhor: não apenas na interpretação da decisão há que se proceder de boa-fé, mas também a autoridade competente para decidir deve fazê-lo de boa-fé.
Ora, não haveria sentido na norma do CPC se se admitisse que a regra comportasse interpretar de boa-fé uma decisão proferida de má-fé.
Cumpre ainda mencionar mais dois aspectos relevantes, relativos à boa-fé no processo administrativo, que se relacionam de maneira particularmente estreita com o CPC. São eles: a litigância de má-fé e a vinculação das decisões administrativas às decisões judiciais pelo instrumento da reclamação.
Em relação à litigância de má-fé, o artigo 4º, I, II e III, da Lei Federal de Processo Administrativo, dispõe sobre os deveres do administrado perante a Administração Pública que encontram um paralelo direto nas previsões de combate à litigância de má-fé dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (antigos artigos 16 a 18 do CPC de 1973) e que também refletem os deveres advindos da boa-fé no processo (administrativo e judicial).
Os deveres que, se violados, configurarão litigância de má-fé são, de acordo com o art. 4º da Lei Federal de Processo Administrativo: “expor os fatos conforme a verdade” (inciso I); “proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé” (inciso II); “não agir de modo temerário” (inciso III). De seu turno, o CPC prevê a conduta do litigante de má-fé nos seguintes termos do artigo 80: “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” (inciso I); “alterar a verdade dos fatos” (inciso II); “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” (inciso V), dentre outros.
Os dispositivos mencionados da Lei Federal de Processo Administrativo e do Código de Processo Civil refletem o dever geral de atuação conforme à boa-fé imposto a todos os sujeitos do processo. Infere-se que a generalidade da proibição à litigância de má-fé dirige-se justamente à promoção dos padrões de conduta esperados dos sujeitos e condizentes, portanto, com os deveres processuais decorrentes da boa-fé.
Sobre o segundo ponto, referente ao instrumento da reclamação, há previsão constitucional a respeito, no artigo 103-A, §3º, segundo o qual “Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal”. A consequência da procedência da reclamação será a anulação do ato administrativo. Mencionem-se também os artigos 102, I, l; 105, I, f; e 111-A, §3º, que preveem o julgamento da reclamação pelas cortes superiores com a finalidade de preservar a competência e a autoridade de suas decisões.
O CPC prevê as hipóteses de cabimento deste instrumento para, nos termos do artigo 988, “preservar a competência do tribunal” (inciso I), “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (inciso II), “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (inciso III), e “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (inciso IV).
A atual disciplina da reclamação no CPC amplia significativamente as possibilidades de controle das decisões administrativas, pois, não somente a observância de súmulas vinculantes será tutelada, mas também a de decisões de repercussão geral e oriundas de controle concentrado de constitucionalidade. Nota-se um mecanismo próprio para a conformidade da Administração às decisões do Judiciário, de modo que os desdobramentos mais concretos da previsão ampliativa do CPC, no que toca à interferência das esferas, se delinearão mais nitidamente com o tempo.
Em todo caso, passa-se a compreender os precedentes judiciais no espectro relacionado às expectativas dos administrados quanto ao resultado do processo administrativo. A constatação encontra ressonância também no artigo 50, VII, da Lei Federal de Processo Administrativo, que determina a obrigatoriedade de motivação da decisão administrativa que deixar de “aplicar jurisprudência firmada sobre a questão”. Ora, diante da previsão ampliativa da reclamação no CPC e do evidente potencial de impacto nas decisões administrativas, com maior razão deve-se compreender a “jurisprudência” mencionada no dispositivo como aquela produzida tanto nas instâncias decisórias administrativas como também nas judiciais.
5. UM CASO DE “DECISÃO-SURPRESA”: MUDANÇA DE RUMO?
Tomando-se como exemplo a prática no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tem sido frequente verificar, na sua jurisprudência, arguições de nulidade em face de procedimentos destinados à apuração de irregularidades em licitações e contratos públicos, por conta da ausência de notificação pessoal dos agentes interessados.
A discussão travada gira em torno da necessidade de notificação pessoal do agente público responsável como condição de validade do procedimento e, consequentemente, como requisito indispensável à imposição de sanções de caráter pessoal. A obrigatoriedade de notificação pessoal encontra amparo no art. 91, I, da Lei Orgânica do Tribunal (Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14/1/1993).
Da leitura das decisões de referido Tribunal, é possível extrair que a atuação da Corte, nesses casos envolvendo a apuração de irregularidade em contratações públicas, dá-se, em regra, mediante a remessa de cópia integral do procedimento de contratação pela entidade pública jurisdicionada ao corpo de fiscalização do Tribunal.
O envio dessa documentação é acompanhado de uma declaração genérica, na qual o agente público responsável e o representante da empresa contratada declaram-se cientes de que a matéria será objeto de análise pela Corte de Contas, responsabilizando-se pelo acompanhamento de seu trâmite pela imprensa oficial.
Durante muito tempo, o Tribunal de Contas defendeu que referido documento, denominado como termo de ciência e notificação, suprimiria a necessidade de notificação pessoal dos responsáveis no curso de cada processo. Assim, uma vez assinado o termo de ciência e notificação, bastaria a notificação através de publicação no Diário Oficial do Estado para que os interessados fossem considerados cientes do andamento do processo e, quando o caso, da abertura de prazo para que se pronunciassem nos autos.
Ocorre que o termo de ciência e notificação é documento prévio à existência do processo no âmbito do Tribunal de Contas. É dizer, quando de sua assinatura, os autos ainda não estão formados no Tribunal. Não têm, portanto, sequer numeração própria. Consequentemente, a remessa da documentação concernente à licitação e ao contrato a ser examinada pelo Tribunal é feita sem que existam, naquele momento de assinatura do termo de ciência e notificação, apontamentos de irregularidade feitos pelo órgão de fiscalização da Corte.
De tal sorte, a remessa da documentação, pela entidade jurisdicionada, acompanhada do termo de ciência e notificação, subscrito pelos agentes responsáveis, é feita sem que existam (i) processo autuado perante o Tribunal e (ii) apontamentos de irregularidades que poderiam, em tese, demandar a manifestação dos agentes interessados.
Talvez por esse motivo pareça razoável admitir, em situação tal, que as pessoas envolvidas, sobretudo os ex-gestores públicos, não disponham dos meios necessários ao acompanhamento automático, via imprensa oficial, dos processos em curso no Tribunal de Contas.
Ora, se, de um lado em tais condições para o acompanhamento processual no órgão de controle externo, realiza-se formalmente a exigência de comunicação aos interessados no processo, de outro lado, na prática, a completa indefinição quanto aos elementos mais básicos para o exercício da defesa e do contraditório, tais como o número do processo e os fatos que são imputados contra o gestor público, resulta em uma verdadeira desorientação jurídica dos interessados. O Tribunal de Contas, ao se valer do referido termo de ciência e notificação, eximindo-se de qualquer comunicação pessoal posterior, não cumpre em termos substanciais com o seu dever de oportunizar integralmente o exercício da ampla defesa e do contraditório aos interessados.
Por tal razão, é possível afirmar que o devido processo administrativo, considerando as balizas apresentadas no item anterior para sua configuração enquanto dever decorrente da boa-fé, substancialmente não se realiza, uma vez que os interessados sequer terão condições mínimas para agir no processo, tampouco para nele influir. Com efeito, tal prática irá acarretar a alienação processual do interessado, em frontal oposição às legítimas expectativas a que nos referimos anteriormente.
A situação se agrava naqueles casos em que do processo resulta a imposição de sanção pecuniária aos agentes envolvidos – da Administração Pública ou de seus contratados –, sem que tivessem sido notificados previamente de sua existência ou dos apontamentos eventualmente formulados pela fiscalização do Tribunal de Contas.
Nos processos relativos ao controle financeiro da Administração Pública, a conformidade às legítimas expectativas processuais, por meio da garantia ao devido processo legal, é ainda mais relevante diante da inversão do ônus da prova que desfavorece os gestores pelos atos eventualmente irregulares que causem dano ao erário, mesmo que não reste demonstrada a ocorrência de conduta dolosa. Isto é, está a cargo do gestor comprovar que bem aplicou os recursos públicos sob sua responsabilidade, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, do artigo 93 do Decreto-Lei nº 200/1967, e do Decreto nº 93.872/1986. Referido entendimento assenta-se também na jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Em razão disso, a prática de atos irregulares poderá resultar na aplicação de sanções dirigidas ao agente público responsável, que somente poderão ser pronunciadas no âmbito de um processo administrativo no qual se oportunize o exercício da ampla defesa e do contraditório, para que o interessado tenha conhecimento dos motivos da aludida condenação e dos dispositivos legais infringidos. Somente o devido processo legitima o julgamento e a aplicação de sanções no âmbito do controle externo da Administração. A inobservância desses postulados no âmbito do processo administrativo implica em violação à boa-fé e à legítima expectativa dos interessados de poderem se pronunciar em processos dos quais poderão advir condenações pecuniárias de caráter pessoal.
Mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo parece caminhar para uma mudança de interpretação a respeito do tema, no sentido de afirmar, talvez pelos motivos acima, a necessidade da notificação pessoal.
Um exemplo dessa mudança pode ser vista no julgamento proferido nos autos do TC-86/014/15, relatado pelo Cons. Renato Martins Costa, na sessão de 16/3/2016. Embora se verificasse, naquele caso, apontamento feito quanto à ausência de assinatura do termo de ciência e notificação, não parece ter sido essa a razão central para que se julgasse procedente a ação de revisão de julgado lá decidida, o que se pode depreender já na ementa do acórdão:
Ação de revisão – Repasses públicos ao terceiro setor – Instrução processual da qual a entidade beneficiária não foi cientificada nos moldes da norma regimental Nulidade absoluta arguida em preliminar – Preliminar acolhida de ofício para anular o processo desde a ocorrência do vício.
Situação análoga verificou-se no julgamento do TC-6930/026/16, relatado pelo Cons. Sidney Estanislau Beraldo, na sessão de 22/6/2016 do Tribunal Pleno, no qual se decidiu pela procedência de ação rescisória porque não cumpridas as hipóteses descritas no art. 91 da LC 709/93 para que se aperfeiçoasse a notificação.
Independentemente de no caso albergado no referido TC-6930/ 026/16 também ter se verificado a ausência do termo de ciência e notificação, o que se observa da fundamentação do voto condutor do acórdão foi que a notificação pessoal era medida que se impunha por força do supracitado artigo legal. Já no primeiro parágrafo, o voto condutor assentou, in verbis:
“Assiste razão ao Autor ao alegar cerceamento de defesa, porquanto da análise dos autos principais foi possível constatar de que as tentativas de notificação não esgotaram todas as possibilidades previstas em lei”.
Mais adiante, reforçando a aparente mudança no comportamento do Tribunal quanto a esse tema específico, o voto arrematou:
“Em que pese a constatação de que os óbices à correta notificação foram criados pela própria autoridade, ao deixar de encaminhar a documentação no prazo fixado nas Instruções vigentes e ao mudar de endereço sem se preocupar em atualizá-lo na própria Prefeitura ou perante esta Corte, é inexorável o reconhecimento da nulidade, pois, não encontrado, o ex-prefeito deveria ter sido notificado por edital publicado no DOE, nos termos do disposto no artigo 91, IV, c.c. artigo 97 da Lei Complementar estadual nº 709/93, o que não ocorreu no caso em exame”.
No mesmo sentido, na sessão de 13/7/2016 o Tribunal Pleno acompanhou o voto proferido pelo Cons. Renato Martins Costa que acolheu preliminar de nulidade decorrente da ausência de notificação prévia do agente apenado pelo acórdão lá questionado.
Os precedentes acima mencionados sinalizam conformar-se com o que já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar procedente ação anulatória proposta contra acórdão proferido justamente pelo Tribunal de Contas do mesmo Estado sem a observância do disposto no art. 91 da Lei Complementar Estadual 709/93. Confira-se a ementa:
Ação Anulatória. Decisão proferida pelo TCE/SP, que julgou irregular a licitação e o contrato administrativo formalizados pelo Prefeito Municipal. Alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Cabimento. Ausência de notificação pessoal do Alcaide, na forma do art. 91 da Lei Complementar nº 709/93. Não é válida a intimação genérica pelo Diário Oficial a fim de atingir parte interessada no julgamento. Inobservância do disposto no artigo 5º, LV, da CF. Precedentes. Súmula vinculante nº 3 do STF. Ação julgada improcedente na 1ª Instância. Sentença reformada. Recurso provido (Apelação Cível nº 0039467-12.2009.8.26.0053, 6ª Câmara de Direito Público, relator Desembargador Leme de Campos, j. 23/05/2011).
Ainda que se possa questionar a invocação da Súmula Vinculante nº 3 na ementa acima reproduzida, haja vista a existência de julgado da Suprema Corte que expressamente afastou sua aplicabilidade nos casos de tomadas de contas (Rcl 6.396 Ag, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21/10/2009), isso não altera a razão do precedente: viola o princípio do contraditório a aplicação de sanção pessoal sem a necessária de notificação pessoal.
Não é outro o entendimento da doutrina, que tem resistido a aceitar, inclusive, o tal termo de ciência e notificação como instrumento hábil a afastar a necessidade de notificação pessoal do agente. Ao comentar a aplicabilidade do Código de Processo Civil aos processos em curso nos Tribunais de Contas, Guilherme Reisdorfer afirmou:
“No âmbito do processo civil, é tradicional a previsão de formas preferenciais de citação. O NCPC mantém essa tradição ao estabelecer que a citação será em princípio pessoal (art. 242) e que ela ocorrerá por edital somente em hipóteses excepcionais e identificadas: ‘I – quando desconhecido ou incerto o citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei’ (art. 256)” (“A aplicação do Novo Código de Processo Civil aos Processos Administrativos”. “Processo e Administração Pública”, Eduardo Talamini (coord.). Editora Jus Podivm, 2016, pp.:571/595).
Vê-se que o regramento mencionado no excerto acima foi justamente a razão da declaração de nulidade proferida nos autos do TC-6930/026/16 acima já referido, embora sem fazer menção expressa às normas do Código de Processo Civil.
Desse modo, constata-se que a jurisprudência, seja do Tribunal de Contas, seja das instâncias judiciais, aparece progressivamente mais alinhada aos preceitos apontados como decorrentes das expectativas processuais, ao determinar a nulidade das decisões-surpresa. Todavia, segundo apontamos, na prática administrativa, a matéria está longe de ser pacífica e merece atenção para que referidas decisões não se naturalizem, em franca oposição aos deveres decorrentes da boa-fé processual.
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança Jurídica e Proteção da Confiança Legítima: Análise Sistemática e Critérios de Aplicação no Direito Administrativo Brasileiro. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2006.
BARAK-EREZ, Daphne. The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests. In: European Public Law, v. 11, 2005, p. 583-602.
COUTO E SILVA, Almiro. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo Decadencial do Art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei n.º 9.784/99). In: Revista Eletrônica de Direito do Estado, n. 2, abril/maio/junho. Salvador: IDPB, 2005. Disponível em <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em: 14 out. 2016.
DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da utilização do processo judicial no processo administrativo. In: AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; CRUZ E TUCCI, José Rogério; RODRIGUES, Walter Piva (Coord.). Processo civil: homenagem a José Ignácio Botelho de Mesquita. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Os Princípios da Proteção à Confiança, da Segurança Jurídica e da Boa-Fé na Anulação do Ato Administrativo. In: MOTTA, Fabricio Macedo (Org.). Direito Público Atual: Estudos em homenagem ao Professor Nelson Figueiredo. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
GIACOMUZZI, José Guilherme. A moralidade administrativa e a boa-fé da Administração Pública: o conteúdo dogmático da moralidade administrativa. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.
GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Princípio da boa-fé. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
MARRARA, Thiago; NOHARA, Irene. Processo administrativo: Lei nº 9.784/1999 comentada. São Paulo: Atlas, 2009.
MATHIEU, Bertrand. Constitution et Sécurité Juridique – Rapport Français. In: Constitution et Sécurité Juridique. Anais da XVe Table Ronde Internationale promovida pelo Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice Constitutionelle da Université d’Axis-Marseille III. Aix-en-Provence, 1999.
MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito adminstrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
MEDAUAR, Odete. Segurança jurídica e confiança legítima. In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Estado de Direito: Estudos em Homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005.
MERKL, Adolf. Teoría general del derecho administrativo. Tradução: José Luis Monereo Pérez. Granada: España Editorial Comares, 2004.
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a Lei 9.784/1999. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.
NEVER trust a bureaucrat. South California Law Review, v. 42, n. 391, 1968-1969.
PÉREZ, Jesús González. El principio general de la buena fe em el derecho administrativo. 2. ed. Madrid: Civitas, 1989.
REISDORFER, Guilherme. A aplicação do Novo Código de Processo Civil aos Processos Administrativos. In: TALAMINI, Eduardo (coord.). Processo e Administração Pública. Editora Jus Podium, 2016.
RIGGS, Robert E. Legitimate expectation and procedural fairness in English Law. In: American Journal of Comparative Law, v. 36, 1988.
SCHIRATO, Vitor Rhein. O processo administrativo como instrumento do estado de direito e da democracia. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein (Org.). Atuais rumos do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 2010, 5ª edição, 2010.
SUNDFELD, Carlos Ari. Processo Administrativo: um diálogo necessário entre Estado e cidadão. In: Revista de Direito Administrativo e Constitucional, n. 23. Belo Horizonte: ed. Fórum, jan./mar. 2006.
SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Interpretações Administrativas aderem à lei?, in: Revista de Direito Administrativo, n. 260. Belo Horizonte: Atlas, maio/ago. 2012.