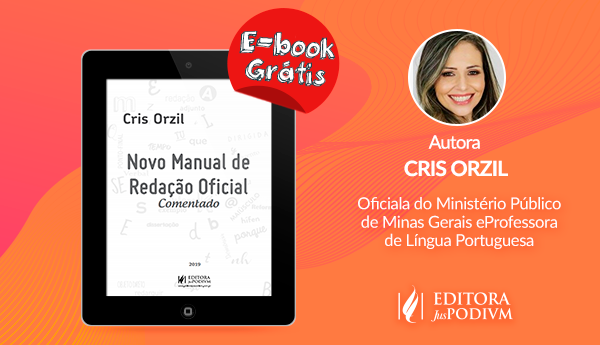O desenvolvimento tecnológico, aliado à evolução social, sabidamente ocasiona o reconhecimento de direitos e posições jurídicas outrora inconcebíveis e mesmo inimagináveis. No entanto, se de um lado o advento da chamada “Revolução Digital”, que é a gênese da contemporânea “Era da Informação”, introduz um “admirável mundo novo” para o exercício de direitos e o cumprimento de obrigações, do outro oportuniza, proporcionalmente, novas formas de violações destes e de tradicionais direitos; abrindo, assim, um novo espaço para o estudo da responsabilidade civil.
É que tal evolução social e tecnológica, associada à constitucionalização do Direito Civil, implica no reconhecimento de novos interesses existenciais merecedores de tutela [1].
Tais constatações – isto é, o reconhecimento de novos direitos e, pois, novos danos não contemplados na segregação entre danos materiais e danos morais, bem como a própria natureza dinâmica e intangível da tecnologia da informação – forçam conferir enfoque atual ao conceito de dano e estender o alcance ao princípio da reparação integral em moldes mais adequados ao vigente estado d’arte; a fim de evitar que, à míngua de previsão normativa, certos (novos) interesses existenciais fiquem descobertos de tutela e, pois, de ressarcibilidade.
No universo da responsabilidade extracontratual a preocupação quanto ao reconhecimento de novos interesses merecedores de tutela é demasiado relevante no que tange à proteção aos direitos da personalidade na internet.
Sem embargo das múltiplas classificações dos direitos da personalidade encontradas na literatura civilista, é ponto comum que dentre tais seguramente se encontra o direito à imagem, que a Constituição Federal assegura como inviolável (art. 5º, X) e ressarcível (art. 5º, V), seguindo no mesmo rumo a legislação infraconstitucional (art. 20, Código Civil).
Sem entrar no mérito de antiga divergência, hodiernamente se reputa a imagem como direito autônomo (e não simples meio para violação de outros direitos da personalidade, como a honra) e mais: nele se inclui qualquer forma de reprodução, analógica (desenhos, pinturas e afins) e digital (gravações, vídeos, imagens) [2].
Nessa qualidade, o direito de imagem tem sua violação pela simples reprodução não consentida da representação externa de uma pessoa, independentemente do meio. Disso, porém, não se pode deduzir que constitua direito absoluto, máxime quando acorrer um interesse legítimo que justifique razoavelmente a veiculação da imagem alheia, assentado, v.g., na liberdade de informação ou de expressão (intelectual, artística, jornalística, científica, etc.). Nesse caso, deve-se lançar mão de uma ponderação concreta entre o direito à imagem e os interesses (também constitucionalmente protegidos) envolvidos na sua divulgação – sobretudo a liberdade de informação – eis que ambos gozam de proteção jurídica.
Mesmo assim, em certos cenários a ponderação pode ser praticamente perniciosa. É que, não raro, na busca pela definição de quais interesses são merecedores de tutela (notadamente quando inexiste correspondência desses com um direito subjetivo positivado), visando a aferição do dano, o operador acaba por “importar” a técnica da ponderação nos moldes definidos pela práxis constitucionalista, sem se ocupar de adaptá-lo às peculiaridades da responsabilidade civil.
Esta falta de cautela é por demais grave em se tratando da avaliação de “casos difíceis” de responsabilidade civil que se originam da internet ou que decorram de tecnologia baseada na rede mundial de computadores – como é o caso dos recentes, e alarmantes, “deepfakes”.
“Deepfakes” – neologismo derivado da junção das expressões inglesas “deep lerning” (“aprendizado profundo”, subcampo da ciência da computação) e “fake” (“falso”) – é o nome dado à manipulação digital de sons, imagens e vídeos que visa a imitação de um indivíduo ou fazer parecer com que ele tenha feito alguma coisa de um modo realista a ponto de impedir que um observador incauto detecte a truncagem [3].
Tratam-se, portanto, de montagens multimídia sofisticadas, cuja precisão em termos de verossimilhança auditiva e/ou visual reside na utilização de algoritmos (a rigor, redes neurais [4]) de aprendizado de máquina combinados com softwares de reconhecimento facial – ambos de custo aquisitivo fácil e utilização intuitiva – cujo emprego remonta a programas de tratamento de imagens (v.g., Photoshop) e para “treinamento” de algoritmos de uso lícito, como os médicos.
Indubitável, portanto, que tais montagens podem ser caracterizadas como criações multimídia – assim entendida como multimídia o produto ou serviço que combina e integra num único meio, em formato digital, elementos como texto, áudio, imagens estáticas ou em movimento, programas de computador e outros dados [5] –; embora tal acepção não as deixe imune ao emprego para fins danosos.
O perigo das “deepfakes” reside no seu emprego ilícito: a tecnologia pode ser utilizada para inserir as faces de indivíduos em determinado dado/conteúdo audiovisual sem sua permissão (v.g., vídeos, clipes de áudio, imagens e afins). Na prática, o resultando mais comum é a veiculação de vídeos de indivíduos aparentemente fazendo ou dizendo coisas que, em realidade, nunca fizeram [6].
Com efeito, trata-se de uma “evolução” do já conhecido, e perigoso, fenômeno das “fakenews” – isto é, “qualquer informação que é intencionalmente criada sob o pretexto de que é credível quando, na realidade, não o é” [7] -, com um agravante de que, por serem extremamente fidedignas e porque a reprodução audiovisual é naturalmente mais persuasiva do que a simples mensagem escrita, tais montagens computadorizadas gozam de elevada eficácia no cumprimento de seu subjacente intento insidioso, qual seja, parecerem verdadeiras com o único propósito de facilitar o engodo do observador, passando uma (falsa) percepção de legitimidade e credibilidade que o autor da fabricação sabe inexistir.
Não é preciso muita criatividade para determinar o destino do conteúdo audiovisual criado pelas “deepfakes”: atualmente já se tem notícia de figuras públicas, como atrizes e atores de renome, que tiveram rostos inseridos em vídeos de sexo explícito, posteriormente distribuídos em sites específicos ou em comunidades sociais de grande base de usuários, como Facebook e Youtube [8]. Nesses casos, o intento do autor do vídeo manipulado pode ser o de extorsão, mediante exigência de pagamento para remoção do conteúdo, ou para fins de exposição vexatória e constrangimento da vítima.
No caso de um indivíduo que tenha seu rosto, voz, corpo, traços corporais ou mesmo sua forma plástica inseridos, mediante manipulação informática e sem seu consentimento, em gravações, imagens ou vídeos truncados, é seguro que lhe assistirá direito ao ressarcimento, porquanto ofendido em seu direito à imagem. No entanto, cabe perquirir em tais casos qual o dano ressarcível e qual a sua categoria em específica.
Há, seguramente, interesse digno de tutela, porquanto a utilização e/ou veiculação não consentida da imagem (amplamente considerada) está assegurada tanto na Constituição Federal, como no Código Civil, revestindo-se como direito fundamental e, pois, como direito da personalidade.
De outro lado, poder-se-ia cogitar que, afora manipulações estritamente antijurídicas (como vídeos de conteúdo sexual ou que simulem a prática de ilícitos de ordem civil ou penal), o autor da montagem esteja amparado pela liberdade de expressão, sobretudo tratando-se de “alvo” que se apresente como figura pública.
No caso, há norma específica para solução do conflito de interesses, isto é, o art. 20 do Código Civil.
No caso das “deepfakes” é aparentemente impossível que montagem de tal ordem se preste à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, embora possa ser objeto de autorização do titular da imagem. Desse modo, resta que, fatalmente, o desrespeito à prevalência do interesse determinado pelo legislador civil gera um dano ressarcível.
Verificado que no caso das manipulações multimídia “deepfakes” há, por regra, dano ressarcível, cabe perquirir qual a natureza de tal dano.
Escudando-se nos ensinamentos de Maria Celina Bodin Moraes [9], pode-se postular que se tratando de direito da personalidade, a violação do direito à imagem em razão da manipulação audiovisual não consentida ou a veiculação de manipulação anteriormente feita constitui dano moral, dado que violador da dignidade da dignidade humana, aqui manifestada, em seu substrato material, no princípio jurídico da integridade física e moral, isto é, na tutela da integridade psicofísica.
Não se descura, no entanto, que a natureza de dano à imagem não exclui, potencialmente, a possibilidade patrimonial, uma vez que a imagem pode ser dotada de valor comercial e avaliação pecuniária [10].
Tais constatações, enfim, demonstram que o advento de novas tecnologias, embora desafiem os limites do silogismo jurídico, não podem servir de escusa para deixar interesse sem tutela e dano sem ressarcimento. Pelo contrário, hão de ser encarados como inventivo e comprovação que a operabilidade da lei, sobretudo a idealizada pelo pátrio Código Civil, pode ser de fato alcançada com sucesso, mas também depende da atividade judicante ponderada e da sagacidade da doutrina, sempre atual em sua análise para situações de dano que, de tão novas, sequer ainda bateram ao Judiciário – como é o caso das manipulações “deep fakes” – embora a prática evidencie que tal realização seja apenas questão de tempo.
[1] Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 4ª ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
[2] MOTES, Carlos Maluquer de. Derecho de la persona y negocio jurídico. Barcelona: Bosch, 1993, p. 39.
[3] CHESNEY, Robert. CITRON, Danielle. Deep Fakes: A Looming Crisis for National Security, Democracy and Privacy? Disponível em: https://www.lawfareblog.com/deep-fakes-looming-crisis-national-security-democracy-and-privacy. Acesso em: 12/08/2019.
[4] Os mais comuns são os “generative adversarial network” (GAN), tecnologia do ramo do aprendizado de máquina (subcampo da ciência da computação) que funciona mediante a confrontação de duas “redes neurais”, uma que gera conteúdo baseado em análise prévia de uma base de dados e a outra que tenta analisar a falsidade ou inexatidão da informação produzida, deixando-a, assim, cada vez mais precisa e convincente a cada “teste” (Disponível em: https://qz.com/1230470/the-hottest-trend-in-ai-is-perfect-for-creating-fake-media/. Acesso em: 12/09/19).
[5] STAMATOUDI, Irini A. Copyright and multimedia products: A comparative analysis. Cambridge University Press, 2001, p. 20.
[6] CHESNEY, Robert. CITRON, Danielle, op. cit., online.
[7] BARCLAY, Donald A.. Fake News, Propaganda, and Plain Old Lie: How to Find Trustworthy Information in the Digital Age. Lanham : Rowman & Littlefield, 2018, p. 30).
[8] Nesse sentido: VILLASENOR, John. Artificial intelligence, deepfakes, and the uncertain future of truth. Disponível em: https://www.brookings.edu/blog/techtank/2019/02/14/artificial-intelligence-deepfakes-and-the-uncertain-future-of-truth/. Acesso em: 12/09/19.
[9] MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 62.
[10] Nesse sentido: GLANZ, Semy. Internet e Responsabilidade Civil. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Doutrinas essenciais de responsabilidade Civil. Vol. III: Direito Fundamental à Informação. São Paulo: RT, 2010, p. 924/925.