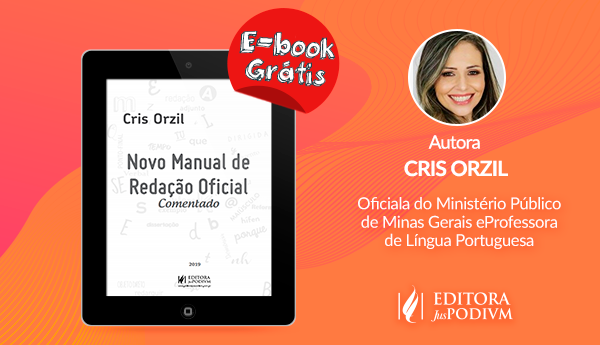Falar em responsabilidade civil é, em boa medida, falar dos problemas atuais de determinada sociedade. Os problemas mudam – e as respostas que a responsabilidade civil oferece também.
A responsabilidade civil, no Brasil, pode resultar de atos lícitos ou ilícitos, individuais ou coletivos, próprios ou de terceiros. Não só capazes, mas também incapazes podem responder civilmente (a indenização, nesse caso, será subsidiária e equitativa, na forma do art. 928 do Código Civil; STJ, REsp 1.436.401). Não só atos podem provocar danos indenizáveis, mas também omissões. Há omissões gravíssimas, como a do médico que, durante plantão em hospital público, recusa-se a atender paciente (danos como esse são mais frequentes do que pensamos). Há alguns anos, no Rio de Janeiro, uma criança pobre, vítima de bala perdida, faleceu na noite de Natal depois de esperar várias horas por atendimento em hospital público. Detalhe: o neurologista que estava de plantão havia faltado e mais: costumava sempre faltar em datas festivas, tinha um histórico de faltas nessas datas (cabe discutir, o que faremos mais à frente, se condutas assim podem ter reflexos na fixação dos valores de indenização). Outro aspecto da maior relevância: adiante veremos que existe, na matéria, quem crie um dualismo: nas ações do Estado, responsabilidade objetiva; nas omissões, responsabilidade subjetiva. Não aceitamos esse dualismo, nem é essa a visão atual do STF sobre a matéria, conforme teremos oportunidade de estudar.
Por muito tempo, falar em responsabilidade civil era falar em culpa. Esse tempo ficou para trás. Não que a culpa tenha perdido totalmente a relevância no tema, não é isso. Apenas não é a atriz protagonista que um dia foi. Existem hipóteses de responsabilidade civil que exigem culpa. Existem, também, outras – cada vez mais numerosas – que não exigem culpa. Essas últimas, aliás, chamadas de responsabilidade objetiva, são as socialmente mais relevantes (pensemos, por exemplo, na responsabilidade civil nas relações de consumo, que é fundamentalmente objetiva; ou a responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, hipótese também de responsabilidade civil sem culpa, isto é, objetiva). Se, digamos, alguém, dirigindo seu carro e falando ao celular, bate no carro da frente, haverá dever de indenizar e a análise da culpa será relevante (o caso será regido pelo art. 186 do Código Civil, que trata da tradicional hipótese de responsabilidade subjetiva, isto é, culposa). Já se a Polícia Federal, cumprindo mandado de busca e apreensão, equivoca-se e entra na residência errada, vizinha daquela que deveria ser objeto do mandado judicial, e leva computadores e bens de alguém que nada tinha a ver com as investigações, haverá dever de indenizar, porém a análise da culpa do delegado e dos agentes não será relevante (o caso traduz hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, 6º §, da Constituição Federal. A culpa só será relevante para a ação de regresso do Estado contra os agentes públicos).
Convém destacar, desde já, que a responsabilidade civil objetiva, sem culpa, já faz parte da tradição constitucional brasileira desde a Constituição de 1946. Poucos países constitucionalizaram a matéria, como o Brasil. Isso traz consequências interpretativas relevantes (que, porém, nem sempre são adequadamente desenvolvidas). Outro aspecto que pode ser frisado: hoje há um olhar doutrinário pacífico no sentido de que a responsabilidade civil do Estado na formulação objetiva iniciou-se no Brasil em 1946. Porém isso é uma visão atual, com olhos de hoje. Nas décadas seguintes à implementação normativa da novidade (isto é, nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado), juristas e tribunais ainda hesitavam, isto é, nem sempre aceitavam que a Constituição de 1946 tivesse trazido uma responsabilidade sem culpa para a matéria. Isso é um exemplo simples que evidencia como o direito é construção cultural: a norma não é a letra da lei (dizemos isso pedindo perdão pela obviedade). A norma jurídica resulta da atribuição de sentido – geração após geração –, aos textos legais, culturalmente falando. Muitos dos mais importantes avanços jurídicos se dão no silêncio da lei (ou apesar dela).
Talvez seja importante dar mais um exemplo sobre o que acabamos de dizer. A própria teoria do risco – a mais importante cláusula geral de responsabilidade objetiva do Código Civil, consagrada no art. 927, parágrafo único – resultou da criatividade dos juristas franceses na passagem do século XIX para o século XX. Não foi a lei que mudou, foi a interpretação que mudou. Os (inovadores) juristas da época passaram a interpretar de forma nova um velho artigo do Código Civil francês. E com isso argumentaram que os mais vulneráveis não precisavam provar a culpa dos empregadores, nas demandas de acidente de trabalho na época. Tratava-se de prova dificílima, o que tornava quase impossível a indenização (e não havia, na época, legislação trabalhista, apenas a responsabilidade civil cuidava desses danos). Queremos com isso destacar a rica dinamicidade da matéria, como novas interpretações podem alterar velhas crenças.
A responsabilidade civil é certamente um dos mais dinâmicos institutos jurídicos. A responsabilidade civil tem certa facilidade em refletir as mudanças culturais de uma sociedade (algo que o direito, em regra conservador, tem dificuldade de fazer). A responsabilidade civil – hoje enxergada por alguns como direito de danos, conforme veremos – tem janelas abertas para a sociedade, tem pontes e canais de comunicação que permitem diálogos e influências entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro. Isso é algo fundamental, isso dá o tom dinâmico da matéria. Há aspectos tão novos que ainda não foram devidamente assimilados. Hoje, por exemplo, em muitos casos, a grande pergunta não é mais se há nexo causal entre o dano e a ação ou omissão. A grande pergunta é outra: o dano está dentro ou fora da esfera de risco da atividade? Se estiver dentro, pode haver dever de indenizar – até, em certos contextos, sem nexo causal. O STJ, em dezembro de 2018, pela voz sempre lúcida da ministra Nancy Andrighi, precisou a questão: “O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público” (STJ, REsp 1.749.941). Estudaremos a questão da responsabilidade objetiva agravada e suas consequências.
Não só. As instituições financeiras, por exemplo, respondem por atos de terceiros, desde que o dano guarde íntima conexão com a atividade que desenvolvem (STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). Note-se que o conceito de esfera de risco, de conexão com a atividade, ganha singular relevância. O conceito de fortuito interno é um dos (muitos) caminhos que permitem novas funções e novas cores à responsabilidade civil.
Há também dificuldades que são de todos os tempos. Que se renovam, século após século.
Uma delas é definir o que seja dano. O discurso humano nem sempre os vê do mesmo modo. A noção do que é dano caminha com as décadas, alterando-se sempre. O que era dano nos séculos passados nem sempre é hoje (basta lembrar que a legislação aludia a danos causados a mulher “ainda capaz de casar”). E o contrário também é verdadeiro: há danos atuais seriam incompreensíveis para pessoas dos séculos passados (basta dizer que a maioria dos danos ambientais seria incompreensível para alguém do século XIX, por exemplo. Simplesmente não havia essa consciência, seria algo absurdo, estranho). O mesmo se diga dos danos mais graves atualmente: os danos extrapatrimoniais em geral, sobretudo aqueles que dizem respeito a lesões existenciais. Não havia, nos séculos anteriores, um aparato conceitual e normativo que autorizasse a pensar desse modo. Talvez possamos dizer que só conseguimos ver o que conhecemos.
Há outro ponto sempre atual, que dialoga com a teoria dos danos morais: o que é um dano indenizável? O que é um mero aborrecimento? Existem danos cuja gravidade supera qualquer compreensão humana (convém sempre citar – para que nunca se repita – o caso de Marcos Mariano da Silva. Mecânico, pobre, passou 19 anos preso por um crime que não cometeu. Na cadeia, durante uma rebelião, ficou cego). Existem aborrecimentos que não podem ser considerados danos indenizáveis (como um caso que o STJ julgou de um casal que foi passar final de semana num resort e não pôde jogar tênis, porque as quadras cobertas estavam sendo usadas para um torneio, e as quadras externas estavam inutilizáveis em razão da chuva). Esses casos são radicalmente distintos, um em cada polo. Mas há – e talvez sejam a maioria – casos limítrofes, que comportam argumentos razoáveis para aceitar (ou pagar negar) a configuração do dano indenizável. O que se deve combater é a quebra de isonomia, ou seja, problemas iguais ou semelhantes com soluções abertamente distintas na jurisprudência. Isso ainda acontece com frequência, e cabe à doutrina a função de sistematização e crítica.
Outra dificuldade eterna da responsabilidade civil é a quantificação dos danos. Essa dificuldade se torna singularmente maior nos danos extrapatrimoniais. A verdade é que até hoje não se chegou a fórmulas satisfatórias (chegaremos um dia?). Uma das tendências da matéria, aliás, é buscar modos não patrimoniais de reparação. Não só a indenização em dinheiro, mas tutelas específicas para cada situação de direito material (sempre que isso se mostrar possível). Quando não for possível, temos que lidar com a quantificação dos danos (mesmo diante de danos que não comportam quantificação, como a morte de um filho ou a perda dos movimentos do corpo decorrentes de um tiro, por exemplo). Seja como for, neste livro, buscaremos fervorosamente a clareza. Isto é, tentaremos, de modo breve e claro, informar ao leitor quais as respostas – normativas, doutrinárias e jurisprudenciais – que temos hoje. A lei civil pouco ajuda em matéria de quantificação dos danos, a solução é toda jurisprudencial.
O sistema conceitual-normativo de responsabilidade civil, no Brasil, está em processo de clara mudança, de notória reformulação. Temos dito que se trata de um edifício em construção. Nota-se o conflito entre velhas fórmulas e novas necessidades sociais. Por exemplo: nosso tempo ainda não definiu, de modo estável, as funções da responsabilidade civil. Ainda não podemos afirmar, com toda certeza, que a função punição faz parte do direito de danos, embora existam algumas décadas de jurisprudência brasileira no sentido afirmativo (sem muito desenvolvimento dos argumentos, é verdade). Veremos a matéria de modo concreto, em casos variados.
As regras jurídicas, no direito da responsabilidade civil, continuam relevantes (embora, cada vez mais, trabalhemos com cláusulas gerais, como o art. 187 do Código Civil, ou o parágrafo único do art. 927). Porém a importância normativa dos princípios é algo que dispensa explicação. Nesse contexto, o dever de indenizar cada vez mais decorre, não de regras, mas de princípios (lembrando que tanto regras como princípios são normas jurídicas). Aliás, há mais de 15 anos, em meu primeiro livro (Teoria dos ilícitos civis, 2002), destaquei o caráter aberto, multifacetado, da ilicitude civil, que não resulta apenas de violação de regras jurídicas (e que, além do mais, possui uma ampla rede de efeitos, e não só o dever de indenizar, como por muito tempo se imaginou). A ilicitude civil não opera com tipo único. Não é singular, é plural. Dialoga com a abertura normativa do século XXI.
Hoje, por exemplo, a violação a deveres de cooperação pode ensejar dever de indenizar (não por acaso, tanto se fala em cooperação à luz do CPC/2015). O mesmo se diga em relação aos deveres de informação (e não só nas relações de consumo). O dever de informar ilumina generosamente a experiência jurídica atual (informação defeituosa ou ausente é causa frequente de indenização, algo frequente na responsabilidade civil médica). A boa-fé objetiva, com sua eficácia normativa plural, redefine o sentido dos deveres (que não resultam apenas das disposições contratuais, mas de expectativas sociais razoáveis e legítimas). Valoriza-se a lealdade e não a esperteza contratual (aliás, já se disse que nada é mais próximo do máximo da ingenuidade do que o máximo da esperteza). O direito do século XXI não está (nem poderia) preso a fórmulas rígidas e absolutas. Busca, ao contrário, reflexões contextualizadas, razoáveis, proporcionais. As amplas transformações ocorridas exigem que o direito incorpore a ética e não se mostre tão fechado como costumava ser no passado.
Como ponderei em outra oportunidade, o desafio é abordar a responsabilidade civil com os olhos do século XXI, no contexto de sociedades plurais e complexas. O direito dos nossos dias é o direito da ponderação, da reflexão contextualizada, do percurso argumentativo. Vivemos numa república de razões e as democracias constitucionais atuais precisam continuamente se legitimar, de modo contínuo, transparente e dinâmico. A teoria dos direitos fundamentais, a força normativa dos princípios, a funcionalização dos conceitos e categorias, a priorização das situações existenciais em relação às patrimoniais, a repulsa ao abuso de direito, a progressiva consagração da boa-fé objetiva são algumas das ferramentas teóricas que ajudam a construir a teoria da responsabilidade civil do século XXI.
É fundamental ainda que busquemos, de modo criativo e responsável, meios e formas de quantificar o dano moral com crescente objetividade. Adiante veremos que, como se sabe, o STJ tem trilhado o caminho do critério bifásico de fixação de danos extrapatrimoniais: “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (STJ, REsp 1.152.541).
Pontes de Miranda escreveu: “Livro de doutrina – manual, comentários ou tratado – há de ser livro útil”. Nessa linha, este livro – como outros que escrevi – tem este propósito fundamental: ser útil. Quer tornar acessível, de modo ágil, discussões teóricas relevantes. Tenta sistematizar, com brevidade, as diversas concepções atuais sobre a matéria. Trata-se de tema extremamente dinâmico, um dos mais ágeis do direito. Um livro que cuide do tema, por isso, talvez tenha que refletir um pouco dessa agilidade, um pouco da velocidade tão definidora dos nossos dias.
Enfim, os caminhos da responsabilidade civil não são infinitos, mas costumam ser espantosos.
Quer conhecer responsabilidade civil, de forma ágil e clara? Os conceitos atuais, as discussões modernas e recentes? A última palavra da jurisprudência sobre todos os temas? É o que este livro tenta oferecer. Numa mistura bem dosada de doutrina e jurisprudência, o autor oferece, em tópicos sugestivos e criativos, a mais completa informação sobre a responsabilidade civil – seja nos conceitos gerais, seja nos setores específicos. É um livro que instiga por sua atualidade, cativa por sua clareza e impressiona pelo seu conteúdo. E por fim mas não menos importante: é um livro fácil de ler, com linguagem direta e atraente.